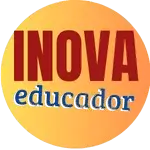Boi e Calunga
O mamulengo é o teatro de bonecos popular do Nordeste, que brinca é chamado mamulengueiro. Um dia, vi um mamulengueiro que tinha um boizinho e um vaqueiro chamado Benedito. Aquele boi não era um boi de fazenda, que pasta. Era um boi decoradinho com lantejoulas e coisas brilhantes, tinha um saiote de cetim. Espirrava talco pelo fiofó. Era um boi de festa, boi de folguedo, desses que correm atrás das crianças. Dava briga para saber quem ia ser miolo, brincar dentro dando ginga e molejo. Boi encantado que coloriu minha tarde e alegrou meu coração. Eu pedi para meu pai que nosso mamulengo tivesse aquilo, ele respondeu, quando você for mestre, faça para você, meu brinquedo já tá pronto e o povo gosta do que vê. Mas eu depois fiquei pensando no poder do boi.
Este animal percorre a história do homem e é totêmico. Esta palavra eu aprendi pesquisando, isso mesmo, depois de velho fui me tornar um intelectual do folclore, hoje minha vida é ler escritores como Renato Almeida, Altimar Pimentel, Veríssimo de Melo, Edison Carneiro, Câmara Cascudo e Aires da Mata Machado, este último foi quem falou do boi totêmico em seu livro O Negro e o Garimpo em Minas Gerais. Este livro caiu na minha mão quando buscava entender a simbologia do boi nos folguedos populares no Brasil. Aponta-se que a maioria das instituições totêmicas tanto banto quanto sudanesas se enfraqueceram ao chegar ao Brasil, no entanto o totem do boi sobreviveu de forma marcante em nossa cultura, o bumba-meu-boi é prova disto. De origem banto, tem sua permanencia por influência ameríndia do vaqueiro e caboclos. Trazendo aspectos religiosos, alguns povos bantos prestam culto ao boi associando o mesmo à boa colheita. Cada chefe de família dos Ba-Naneca tem a proteção de um Geroa, boi consagrado, festejado com cânticos e instrumentos especiais, segundo o pesquisador. Esta festa de celebração da paz e da abundância deve ter um boi preto e branco tendo como dono um dos grandes senhores de terras, vai com outro boi chamado Xicca e uma vitela figurando como dona de casa, ou esposa da situação. No fim das colheitas, no meio do ano, fazem uma procissão da casa do amo até uma distância de cerca de 7 léguas, tendo no cortejo donzelas enfeitadas na cabeça com grandes enfiadas de bagos de várias sementes, e homens com a cara pintada de um barro branco chamado peio, significa felicidade. Chegando na localidade, oferecem um pó de casca de árvore bem amargo ao boi Geroa chamado bungarulo. Se o boi lambe, é um bom agouro, e o fazendeiro recebe felicitações, se não lambe é sinal de má sorte, e paga-se com a vida. Essas influências totêmicas do boi são muito fortes no Nordeste, e são do tronco banto.
Além disso, algumas práticas e superstições se estabeleceram como colocar chifres de boi nas cercas de roças e hortas afasta mau olhado e coisa-feia. Chá de escremento bovino serve contra coqueluche e outros males. Queimar estrume de boi à porta ou dentro das casas imuniza-as contra a entrada de doenças ruins e feitiços. O homem do Nordeste sabe o quanto deve ao boi, ou ao gado bovino de modo geral, também equinos nos trabalhos de penetração do território e sua fixação. Daí a inevitável consagração do boi ou do cavalo traduzida também nos folhetos populares. Boi Espácio ou Rabicho da Geralda, a glória do Boi Misterioso ou Boi Pintadinho, também a Vaca do Burel. Entre os episódios curiosos da história nacional figura a lenda do boi de Belquior, que foi espetáculo que seduziu os holandeses durante o período de sua dominação no Nordeste. Contam que em 1643, na festa da abertura da ponte do Recife ao trânsito publico, Nassau anunciou que, nas festividades, um boi iria voar.
O fato se verificaria no campo do Palácio de Friburgo hoje Praça da República. No dia anunciado, realmente apareceu ao povo o boi de Belchior Alves, boi manso que andava pelas ruas da cidade, entrando de casa em casa. Depois de passear pela praça, viu-se sair por uma corda ligada até um mastro com alguma distância, o boi que voava. Não era um boi de verdade, mas uma armação cheia de palha, com o que pôde o governante iludir a curiosidade pública naquela festa de inauguração da ponte do Recife, segundo Pereira da Costa.
Há também o Rabicho da Geralda, que serviu de inspiração para José de Alencar, onde o boi
Rabicho percorre terras por onze anos, uma figura lendária para o contexto da época. Na história é falada sobre uma grande seca que houve na época, mas não se trata da seca de 1877, a mais celebrada do século XIX, pois Alencar divulgou o texto três anos antes. Ao que tudo indica, seria a de 1777, conhecida como a dos três sete“, ou a de 1790-93, das mais dramáticas conhecidas. Dos romances tradicionais dentro do ciclo do boi podemos citar ainda O Boi Surubim, O Boi Liso, O Boi de Mão de Pau, ABC do Boi Prata, Boi Víctor, Boi Adão, e o ABC do Boi Elias. Na tradição oral desses romances, o herói é apenas o boi. Os demais personagens, vaqueiro, cavalo e fazendeiro são secundários. O Boi traduz uma verdadeira prosopopéia, trazendo o cantor que é o espectro do próprio boi, herói que vagueia pelas varzeas. As histórias de boi, geralmente, estão em torno de uma temática principal. O boi perdido no mato, nenhum vaqueiro consegue prendê-lo, pois tem astúcia e bravura.
A história do Boi Misterioso ou Boi Mandingueiro tem a mesma temática, muito semelhante as duas narrativas inclusive a vinda de um vaqueiro que não é conhecido no local, numa vem de Mato Grosso, na outra vêm do Piauí. É a história de um bezerro que se tornou um boi famoso pois ninguém conseguia pegar, diziam até que ele filho de um gênio criado por uma fada. O fazendeiro oferece um presente para quem pegar, um anel, um relógio, três contos de réis, até que um vaqueiro de fora montado num cavalo magro e franzino consegue a façanha. Boi Misterioso é de autoria de Leandro Gomes de Barros, maior autor de cordéis que já houve. Mesmo autor de O Cavalo que Defecava Dinheiro, obra que inspirou Ariano Suassuna a escrever uma de suas peças famosas. Em Vespasiano, Minas Gerais, onde fica o Museu Saul Martins, tem um tal de Boi da Manta, que surgiu nas festas do Rosário em épocas passadas, desapareceu e voltou em festas carnavalescas. Porém o folguedo não se fixou no Carnaval. Plínio Barreto diz ser vinculado a Festa do Divino, boi do divino, onde era boi vivo, sacrificado e repartido para os presentes igual ao boi Geroa africano. Já o boi figurativo passou para o Carnaval de rua, trazendo mulinhas, marmotas fazendo algazarra e correrias. Sábado de Aleluia tambám sai o Boi da Manta mas diferente do Carnaval, pois vem acompanhado das guardas de congado. O Boi de Aleluia tem músicas próprias que se referem ao boi. Vêm o boiadeiro conduzindo o boi preso ao laço, o toureiro que dança e toureia com as garrochas na mão. O público pode participar, acontecem tentativas de marrar os assistentes que saem correndo. Trazem burrinhas e pessoas montadas em imitações de cavalinhos como nos folguedos nordestinos. O toureiro veste capa vermelha e com as garrochas acontecem evoluções na frente do boi. Toureando e dançando ao som de caixas, violas e sanfonas Benedito Catumbi faz o boi, Bené Preto veste o boi da manta, é o miolo.
O vaqueiro, esperto e ágil e José Batista, Carambola recita frases alusivas ao boi e sua origem, Joaquim Alves com laço em punho dirige o boi, corrigindo excessos. O cortejo se completa com as guardas de congado, marujos e caboclinhos. Este folguedo mineiro lembra bem os festejos de boi no Nordeste. O boi é uma tatuagem na carne da sociedade rural. Os vaqueiros e seus aboios tinham versos que mostravam o amor pela vida de gado. Boi tem valor sagrado, vira assunto nas rodas, vaqueiro tem o dever de viver chamando gado e sente-se honrado. Fazem versos, repentes de viola, chapéu de couro. Deixam cargos militares para correr atrás de touro. Ê boi, na hora da despedida da farda para o gibão, o coronel acha digno dando libertação. Vaqueiro é profissão que dá respeito, o sujeito ganha cartaz para entrar para as vaquejadas, e conhece cada palmo de terra da região correndo o sertão atrás do gado. Vaqueiro chegando em bando, num trote só, chega assustar, parece coisa de cangaceiro, chegando de assalto. Boi bravo vira lenda. Vira cordel. Vira mote. Vira boi boneco.
No Rio Grande Norte tem muito mamulengueiro bom, lá não é mamulengo, o brinquedo lá se chama João Redondo. Tem Chico Daniel e os irmãos Relâmpago. Lá boneco é calunga, e quem faz calunga é calungueiro. Em Pernambuco eu conheci calunga por outra coisa. Calunga aqui é parte do maracatu. No meio do batalhão, tem a dama do passo, uma moça que carrega uma boneca negra de madeira chamada calunga. O cortejo real vai até à igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é a santa padroeira, também do Congado em Minas Gerais. Os negros entoavam versos na frente da igreja, onde a parada era obrigatória. Versos à padroeira do Rosário e à São Benedito, santo da predileção por ter a pele negra. Sobre a calunga, Arthur Ramos conclui que a boneca seria o cetro, o distintivo do Rei que vai ao cortejo, ao mesmo tempo que um elemento de religiosidade. O maracatu traz algumas outras manifestações sobreviventes do modo bantu de fazer os cultos religiosos. Ao lado de reis, rainhas e embaixadores, figuram animais totêmicos como o galo e o jacaré, além da calunga como símbolo fetiche-religioso. Calunga é um deus entre os bantus, o mara para os Angola-congueses. Arthur no seu livro O Negro Brasileiro ainda aponta que nas macumbas cariocas, de origem bantu, cantam os negros:
E vem, E vem, A rainha do mar, Vamos savar, Ó Calunga! A Rainha do mar. No Congo e Angola é uma figurinha de madeira, este fetiche ou iteque é uma figura de madeira, um pequeno boneco. Por isso, no Brasil, calunga passou a ter uso popular significando boneco, como viu no uso comum potiguar. Os negros do Maracatu que chamam a boneca da calunga, já não sabem porque fazem, ficando esquecida no inconsciente a primitiva significação de calunga, um deus. Maracatu então não festeja somente sobrevivência histórica e totêmicas, Festejam religião. Aproveitam da situação do Carnaval, iludindo a perspicácia dos brancos opressores e festejam os seus antigos reis, sua memória. Entre os deuses adoram Calunga, um dos maiores, um motivo universal, deus do mar, e das águas. Chama-se calunga que é natural de São Vicente, primeira cidade do Brasil, vizinha de Santos. Em Goiás segundo Couto de Magalhães era sinônimo de negro, o mesmo acontecendo em Santa Catarina. Em Cabo Frio há uma peixe há um peixe com este nome, e calungueira é o nome da embarcação para pescar o mesmo. Na África portuguesa em um ria afluente do Caporolo, com o nome de Calunga. É nome de planta em Minas Gerais e sertão da Bahia. Na língua bantu aparece com várias significações como morte ou personificação da morte. Kalunga-ngombe, rei do mundo inferior. Ainda na África, é título de fidalguia na Jinga. Silva Campos, num dos contos que recolheu na Bahia, encontra referência de calunga com as águas no conto A Mãe D ́ água.
Zão, Zão, Zão.
Calunga.
Olha o munguelendô.
Calunga.
Minha gente toda.
Calunga.
Vamo-nos embora.
Calunga.
Para a minha casa.
Calunga.
De debaixo d’água.
Calunga…
Munguelendô ou munguelendo é palavra que se assemelha à mamulengo e pode ser uma das origens para o termo, uma vez que esta não podemos calcular a infiltração deste conto nos séculos passados. Podendo servir de inspiração para a palavra hoje adotada no teatro popular de bonecos como conhecemos. Renato Mendonça baseado em Marcelo Soares confirma origem africana, derivado do quimbundo, kalunga, mar. Pode ter alguma relação com Iemanjá, orixá associado às águas do mar. Aires da Mata Machado recolheu em Diamantina uma ronda infantil onde calunga aparece como refrão.
Eu fui no mato,
calunga,
Cortar cipó,
calunga,
Eu vi um bicho,
calunga,
De um olho só…
Diz o mestre que a cantiga conserva ainda seu antigo significado.Calunga, cambada, calundu, são tantos termos trazidos da África e incorporados ao nosso jeito brasileiro, que muitas vezes nem reparamos como nossa língua é repleta de pequenos mistérios.
Publicado em La Hoja del Titiriteiro – 03